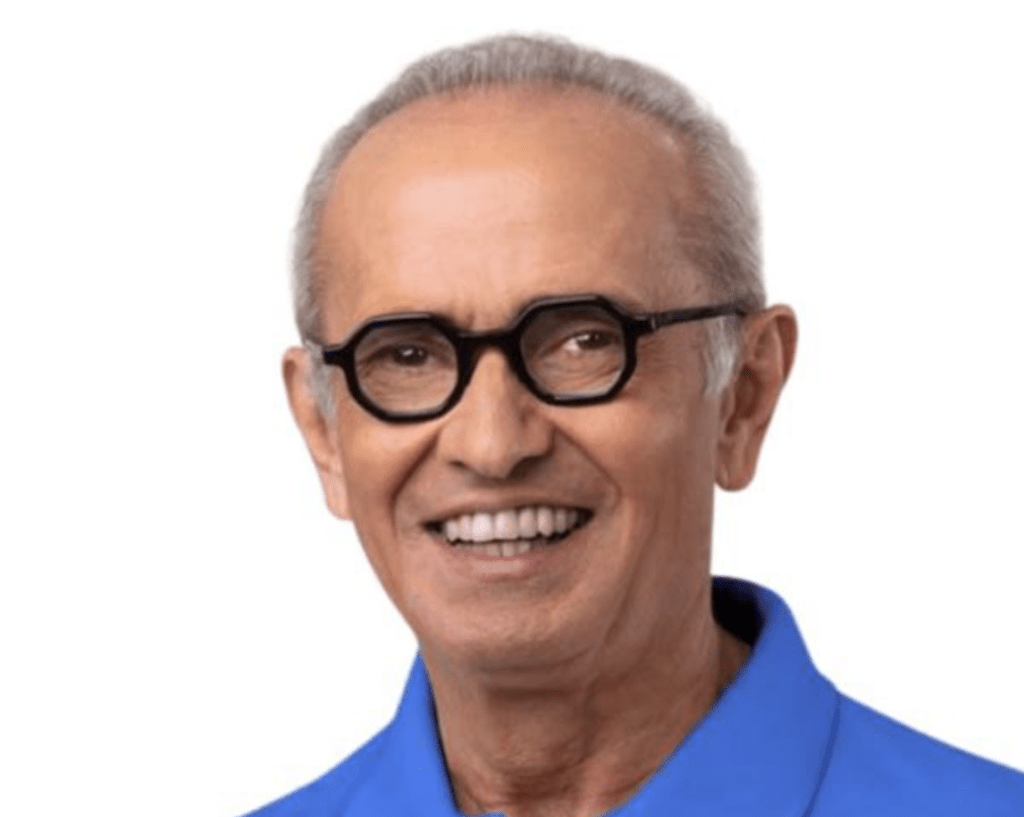
Por Cícero Lucena
Imaginem a cena: seu time está em campo, perdendo de goleada. O técnico orienta, gesticula, mas os jogadores ignoram as instruções, jogam por conta própria ou simplesmente seguem alheios ao comando. À beira do campo, o treinador assiste impotente e você, se desespera.
Pois esse será o cenário das cidades no Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS caso não haja uma revisão do PLP 108/2024. Sem simetria, os prefeitos terão que lidar com “jogadores” que poderão não atender a determinação do técnico. E a derrota, iminente.
Esse “detalhe”, longe de ser trivial, está escondido nos artigos que tratam da composição do Conselho, o “coração” do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108/2024. Embora à primeira vista pareça apenas mais um texto técnico — um artigo aqui, um parágrafo ali —, quando analisado com atenção, especialmente o Capítulo III, Seção II, fica evidente que estamos diante de uma proposta que compromete a lógica de participação federativa na formulação e execução de uma política pública fundamental — a da reforma tributária.
Não se trata de exagero. O desenho atual do PLP enfraquece a representação municipal justamente no espaço onde serão tomadas decisões estratégicas sobre a gestão do IBS, imposto que unificará o ISS e o ICMS, tributos sobre o consumo, e afetará diretamente a arrecadação e os serviços prestados à população.
Para os Estados, a regra é clara: o governador será automaticamente representado por seu secretário de Fazenda ou Finanças. Ocupou o cargo, garantiu uma das 27 cadeiras destinadas aos estados no Conselho. E quando esse “jogador” for mal no jogo, o governador pode, a qualquer momento, substituir seu representante — afinal, o cargo fala por si. É uma representação institucional, legítima e funcional.
Com os municípios, o jogo muda de figura e acentua o desequilíbrio. O prefeito ou prefeita deve indicar uma pessoa física, o que se convencionou chamar de indicação por CPF. Esse “jogador” pode até ser um secretário municipal de Fazenda ou Finanças, mas não necessariamente. Basta preencher alguns critérios técnicos: ter dez anos de experiência na administração tributária municipal, quatro anos em cargos de direção, chefia ou assessoramento superior nessa mesma área e formação superiores compatível com a função. O prefeito pode destituí-lo, mas não nomear outro em seu lugar. Pior, assume o suplente de outra cidade. Ou seja, uma vez eleito, o representante torna-se, na prática, um titular fixo, com mandato, mesmo que o cenário político, técnico ou institucional do município mude. Em outros termos, o técnico pode pedir para o jogador sair, mas não pode substituí-lo.
Trata-se de um modelo que rompe com o princípio básico da representação: a fidelidade à vontade do ente federado que se pretende representar. Que tipo de representação é essa em que o titular pode, legitimamente, se afastar das diretrizes, das demandas e até dos interesses do município sem que haja qualquer possibilidade de substituição?
A mesa de negociação fica desequilibrada tendo de um lado secretários de estado, que além de conhecimento técnico, têm respaldo político para falar em nome dos governadores, e do outro, representantes municipais que, mesmo que com robustos currículos técnicos, podem divergir do posicionamento do município, pois têm mandatos, nem agregar o papel de interlocutor do prefeito.
A assimetria é evidente — e juridicamente questionável pois fere o princípio constitucional da isonomia. Enquanto estados operam com um modelo automático, estável e funcional, os municípios são submetidos a uma lógica engessada, que desconsidera o princípio da autonomia municipal. Pior: ignora a própria dinâmica da política local, onde alternâncias de poder, reorganizações administrativas e redefinições de prioridades são parte do jogo democrático.
Resta a pergunta: qual a lógica dessa diferença entre estados e municípios? Se o objetivo é garantir estabilidade e qualificação técnica, por que os mesmos critérios não são exigidos dos representantes estaduais? Se a justificativa é institucional, por que o modelo dos estados reconhece a autoridade do cargo e o dos municípios se ancora em pessoas físicas com mandatos?
Se o argumento for institucional, ele também não se sustenta. Afinal, no caso dos estados, a cadeira no Conselho pertence ao cargo — e não à pessoa. É o secretário de Fazenda ou Finanças, uma autoridade nomeada diretamente pelo governador quem ocupa o assento, com possibilidade de substituição sempre que necessário. Já os municípios são obrigados a delegar sua representação a uma pessoa física específica, que permanecerá ali por quatro anos, independentemente de mudanças no governo municipal.
A dualidade de critérios compromete a coerência do modelo, gera insegurança jurídica, fere o pacto federativo e, sobretudo, cria um desequilíbrio na capacidade de influência entre os entes federados — num Conselho que deveria refletir de forma equânime os interesses de estados e municípios.
Não faz sentido, uma vez que o espírito da reforma tributária é o da cooperação federativa. No entanto, a composição do Conselho vai na contramão e coloca os municípios em desvantagem. Se queremos, de fato, um sistema mais justo é preciso garantir que todos os entes tenham voz de forma equilibrada. Porque no Brasil real, onde as cidades são a linha de frente da entrega de serviços públicos, não se pode tratá-las como coadjuvantes.
Cícero Lucena é prefeito de João Pessoa e vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional da FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos)



